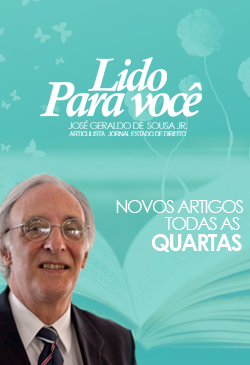Lido para Você, por José Geraldo de Sousa Junior, articulista do Jornal Estado de Direito
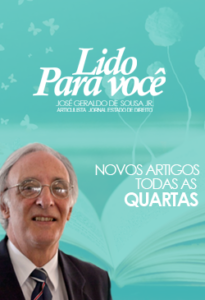
Sabrina Durigon Marques. Direito e a Colonialidade da propriedade: uma Análise Interseccional da legislação de Acesso à Terra Urbana no Brasil. Tese defendida no Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, 2025, 153 fls.
A apresentação e defesa da Tese revê como banca, além de mim, orientador e da professora Paula Freire Santoro – FAU/USP, Coorientadora, as professoras Lívia Gimenes Dias da Fonseca Universidade de Brasília – UnB, Adriana Nogueira Vieira Lima, Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS; Cláudia Acosta, Fundação Getúlio Vargas – FGV e Eneida Vinhaes Bello Dultra, assessora da Câmara dos Deputados, Doutora em Direito ela UnB, na qualidade de Suplente.
A síntese do trabalho está no resumo: “A partir de uma análise histórica da legislação fundiária brasileira, procura-se compreender em que medida o Direito e as leis têm responsabilidade pelo fato de as mulheres serem menos proprietárias de imóveis que os homens. A pesquisa busca respostas para a seguinte questão: quais são os motivos que fazem com que a mulher tenha menos propriedade de imóveis que os homens? O resgate histórico é conjugado com uma análise interseccional envolvendo classe, raça e gênero, a fim de identificar os elementos que contribuem para que a propriedade da terra urbana ainda hoje esteja concentrada em mãos masculinas. Conjuga-se a isso uma perspectiva crítica e decolonial do Direito, afastando sua suposta neutralidade, que serve apenas para privilégio de alguns. Para esta análise foi feita uma avaliação histórica da legislação fundiária no Brasil, utilizando a lente interseccional que considera raça, classe e gênero, até culminar no Programa Minha Casa, Minha Vida, principal política pública que previu o benefício feminino para contratação e titulação de imóvel. A pesquisa avalia os limites desta política, que tem a propriedade como saída para o déficit habitacional, mas que muitas vezes acaba por causar o endividamento das mulheres, que sofrem mais com o desemprego e estão mais sobrecarregadas com as atividades de cuidado e o trabalho reprodutivo”.
E o desenvolvimento da tese segue um capitulado que indica o conteúdo do trabalho, do modo como o indica a Autora:
O primeiro capítulo traz os dados sobre déficit habitacional feminino, trata da importância da propriedade para a garantia do direito à moradia, mesmo defendendo que ele pode e deve ser garantido também por meio da posse, da locação e de outros mecanismos disponíveis. Nesse passo, a propriedade é o local onde se desenvolve a reprodução da vida, cuja principal responsável pelas atividades de cuidado é a mulher, e, justamente por ser uma atividade reprodutiva e, em geral, não remunerada, é também um óbice para que a mulher consiga se tornar proprietária. Por fim, trato da importância do registro do imóvel em nome da mulher.
O segundo capítulo traz uma perspectiva da propriedade enquanto herança colonial, considerando que foi esse o modelo imposto ao Brasil colonizado, e que foi reproduzido até os dias atuais como principal política de moradia. Atrelada a isso está a reivindicação da propriedade pelas mulheres que moram em favelas, participam de movimentos sociais e entendem a propriedade como a segurança e a solução para o fim das constantes remoções e despejos. Por fim, o capítulo traz uma análise da interseccionalidade a partir das três opressões que se conectam, classe, gênero e raça, e discorre sobre a intersecção destes elementos como fator que colabora para a situação de vulnerabilização da mulher.
No terceiro capítulo faço uma análise da evolução normativa desde as Sesmarias em Portugal até os dias de hoje e analiso as concessões que vão sendo permitidas às mulheres, sempre buscando explicação para a disparidade na garantia do direito à propriedade entre mulheres e homens, considerando classe, raça e gênero.
Há uma ideia de que ao longo do processo histórico os direitos vão sendo adquiridos com a consequente evolução e ampliação de conquistas, contudo, tratase de uma falsa premissa, pois o que a história demonstra é que avançamos ou retrocedemos conforme o contexto sociopolítico de cada período. Em vários momentos da história as mulheres exerceram poder político importante (houve épocas em que o sangue era mais importante que o sexo. Com avanços e recuos, a história tem meandros que estão sempre a ser desvendados, especialmente se considerarmos que o positivismo responsável pelos registros estava contaminado de caráter patriarcal, não era neutro. Por isso, para que se possa revisitar a legislação e analisar se ela foi a responsável por alijar as mulheres do direito de propriedade, é preciso utilizar outras lentes, como a lente feminista, que vai questionar o positivismo e a suposta neutralidade em que foi concebido, a fim de se refutar os estereótipos.
Para compreender o papel da legislação no histórico da propriedade no Brasil é preciso resgatar, desde sua responsabilidade pelas capitanias hereditárias e sesmarias até as formas atuais de aquisição da propriedade. Não se trata de pesquisa que se propõe a resgatar todo processo histórico de colonização do Brasil, mas que se detém à leitura e à análise da legislação referente à propriedade e aos direitos das mulheres a fim de avaliar se, em algum momento, houve a intencionalidade expressa ou não de destinar a propriedade de terras exclusivamente aos homens. Contudo, sabe-se que a produção normativa não pode ser afastada do Estado patriarcal, de forma que a construção do Direito e das leis que regem essas relações está diretamente relacionada ao caráter do Estado.
O quarto e último capítulo analisa como as demandas femininas foram incorporadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida. Faço então uma análise do processo legislativo que incorporou alterações à Medida Provisória, e avaliando quais pautas foram absorvidas e se foram suficientes. Muitas mulheres que são beneficiárias do programa acabam perdendo seus imóveis em razão do endividamento que sofrem. Por fim, trato das políticas públicas interseccionais, ressaltando pontos de interesse que precisam ser observados.
O Programa Minha Casa, Minha Vida foi a principal política pública de subsídio de imóveis de caráter nacional que reconheceu a vulnerabilidade da mulher e garantiu-lhe especificamente prioridade em seu acesso.
Analisar a legislação com as lentes feministas interseccionais ajuda a responder os motivos do distanciamento entre a igualdade formal entre mulheres e homens garantidas na Constituição Federal de 1988 e a desigualdade de fato na posse e propriedade de imóveis no Brasil.
Se o déficit habitacional brasileiro é feminino e predomina nas áreas mais vulnerabilizadas das cidades, então as políticas habitacionais precisam privilegiar as mulheres, para que elas não sejam mais uma vez vitimizadas em razão dessa ausência.
Trata-se de pesquisa sociojurídica, que perpassa pela análise do Direito, a partir de uma perspectiva sociológica, com base empírica e que não o aparta de seu contexto social. A pesquisa se utiliza do método de abordagem dedutivo, utilizando-se de procedimento histórico para análise da legislação. Com o procedimento histórico é possível analisar fatos pretéritos e perceber sua influência na sociedade atual, a partir de mudanças temporais ocorridas ao longo do tempo.
É uma pesquisa que ousou navegar pelo privatismo do direito civil, de tratamento individualista da propriedade até o direito urbanístico, de caráter publicista, que reconhece na propriedade a função coletivizante e social que ela deve cumprir para o bem-estar comum.
Desenvolvida com a pertinência de uma interpretação nutrida pelo lugar estratégico que a pesquisadora estabeleceu tanto teórica quanto empiricamente nesse campo, a tese traz a originalidade de uma perspectiva crítica e decolonial do Direito para a análise da legislação fundiária no Brasil, utilizando a lente interseccional que considera raça, classe e gênero, de modo a afirmar feminino como sujeito da contratação e titulação de imóvel, nos programas públicos de acesso à terra urbana no Brasil.
Com efeito, conforme as conclusões do trabalho:
As lentes da interseccionalidade devem ser usadas para identificar e compreender as diferenças, a fim de que não se tornem desigualdades sociais, por isso é crucial admitir a relação intrínseca entre raça, classe e gênero, como três pilares geradores de vulnerabilidades e opressões. E com isso se atesta que tal método não fere a imparcialidade, pelo contrário, reconhece que a parcialidade está presente na construção de cidades e de políticas públicas, que são impregnadas do ponto de vista individual de seus gestores, pois a forma como vemos o mundo conforma o nosso ser e a nossa percepção do todo, e por isso é imperioso que as destinatárias da política sejam ouvidas para sua formulação.
A reivindicação da propriedade como principal mecanismo para assegurar o direito à moradia decorre de uma perspectiva colonial, racializada e eurocêntrica, que introjetou a lógica mercadológica na qual prevalece o valor de uso e não de troca com relação à terra. E a principal política pública de moradia no Brasil é o Programa Minha Casa, Minha Vida, que assegura esse direito por meio da propriedade. A despeito disso, e mesmo que se defenda que as políticas devem ser adequadas aos perfis e às necessidades de cada grupo, a reivindicação da propriedade deve ser considerada legítima, por todo imaginário que ronda o espectro dessa ideia, pela segurança que ela pode trazer ou pelo sonho que almeja ser alcançado.
Ocorre que, ao mesmo tempo em que o PMCMV permite alcançar “o sonho da casa própria”, muitas vezes é o caminho para o endividamento das mulheres, majorando a sobrecarga de trabalho e podendo até causar o despejo e a perda da moradia por falta de pagamento.
O endividamento das mulheres é um fato que ocorre por dívidas relacionadas ao financiamento habitacional, ao alto custo do aluguel, mas também das atividades relativas ao trabalho reprodutivo realizado dentro do ambiente doméstico. O reconhecimento da dívida como mecanismo colonial de controle e dominação das mulheres não pode ser visto apenas como um problema individualizado, mas como estratégia do capital para geração de mais lucros, por isso se reforça a necessidade de que as políticas públicas tenham base concreta e lastro nas demandas e reivindicações sociais das mulheres beneficiárias.
Há uma relevante ambivalência entre a importância da titularidade da mulher, que assegura direitos e o reforço a papeis de gênero, que podem ampliar a sobrecarga do trabalho reprodutivo. Não basta prever a prioridade de registro em nome da mulher, se ela está como principal responsável pelas atividades de cuidado, quem fará o registro, em geral, é o homem. Conforme demonstrado na pesquisa de Monteiro (2016), muitas mulheres desconhecem a normativa do programa que as beneficia, e julgam que a sua propriedade está em nome do marido porque foi ele que cumpriu a tarefa burocrática de ir ao cartório. Nesse passo, é preciso pensar em campanhas elucidativas sobre a as prioridades tratadas em lei, é fundamental que as beneficiárias conheçam seus direitos, as mulheres não podem ficar à mercê de sua situação conjugal para que possam usufruir de seu direito de acesso à terra.
Não é possível pensar em políticas que privilegiem a titulação feminina sem considerar que as mulheres estão inseridas em relações patriarcais e que fazem parte da classe trabalhadora. A pobreza é feminina e negra, e isso deve ser considerado em todas as políticas com esse viés.
No Brasil mulheres e homens têm direitos iguais sobre a propriedade em um relacionamento, filhos e filhas têm direitos iguais de herança e cônjuges sobreviventes têm direitos iguais, independentemente do gênero. No entanto, essas proteções foram apenas introduzidas com o novo Código Civil de 2002. Antes disso, vigia o Código Civil de 1916, que afirmava que o marido era o chefe da família, e a esposa deveria colaborar para o exercício dessa função. Isso permitia que os homens administrassem os bens conjuntos. Pode-se verificar que as influências do período colonial estiveram e ainda estão presentes nos países colonizados, mesmo após sua independência.
O Direito assegura a manutenção das relações de gênero, definindo estatutos, sancionando papeis e atribuindo caráter de consenso a determinados valores e, por fim, valida pela aceitação da supremacia das leis e a manutenção de privilégios. Nesse sentido, o Direito incorpora as definições socialmente aceitas sobre quais seriam os comportamentos da mulher, do homem, do pai, da mãe, pois a sua própria construção está atrelada às relações que forjam esses papeis, aproveitando-se de sua suposta neutralidade para seguir referendando o modelo patriarcal já estruturado.
As marcas do patriarcado nem sempre se revelam com nitidez, porém são indeléveis, e para superá-las não basta revogar normas sem superar paradigmas. Para despatriarcalizar, portanto, é imprescindível democratizar, transformar as instituições a fim de se alcançar a igualdade de gênero e raça, pois assim é provável que tais distorções sejam dirimidas para a efetivação dos direitos das mulheres.
A tese, aprovada com o relevo que a Banca reconhece confirma a qualificada capacidade de análise que a Autora vem demonstrando, não apenas no campo de sua expertise como interprete dos fundamentos que balizam o direito à cidade mas no ativismo que a inclui entre os que dão organicidade a esse campo (âmbito de sua atuação no IBDU – Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico).
Não por outra razão, o Grupo de Análise de Conjuntura Social que serve à CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), focalizando na moradia o tema de sua análise oferecida aos bispos (o episcopado brasileiro é hoje o maior do mundo), tenha buscado, também em Sabrina, fonte de fundamentação para localizar em seu texto, o entendimento hoje, sobre o que poderia ser tomado como um balanço da política de moradia no Brasil nos últimos 20 anos, emprestando dela uma síntese levada para a redação do texto.
Fala pelo reconhecimento que os redatores atribuem a essa contribuição de Sabrina, o modo como ela está credenciada no documento, a teor de sua nota 24: “Sabrina Durigon Marques é mestra em Direito e Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Doutoranda em Direito na Universidade de Brasília. Integrante do Grupo de Pesquisa O Direito Achado na Rua (DAnR). Professora universitária é Conselheira regional no Centro-Oeste do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU). Autora do livro Direito à Moradia, da coleção Para Entender Direito. São Paulo: Estúdios Editores. Com, 2015. Coautora e coorganizadora de O Direito Achado na Rua, vol. 9 – Introdução Crítica ao Direito Urbanístico. Brasília: Editora UnB, 2019. Para acesso livre a edição digital de O Direito Achado na Rua: Introdução Crítica ao Direito Urbanístico: https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/book/17. Relevo para a Parte V – Retratos da produção social do Direito Urbanístico e Carta Mundial pelo Direito à Cidade” (para o contexto conferir em JUSTIÇA E MORADIA: Uma Análise de Conjuntura (Grupo de Análise de Conjuntura da CNBB – Padre Thierry Linard, fevereiro de 2025).
A referência a Sabrina no documento de Análise de Conjuntura permitiu estabelecer duas anotações singulares que de certo modo se ligam à sua tese. A primeira é o dar-se conta da relevância dos achados nesse tema, das contribuições que formam parte substantiva da fortuna crítica do Grupo de Pesquisa O Direito Achado na Rua. Além de Sabrina, também é referida a enorme contribuição da professora Adriana Nogueira Vieira Lima e de outros trabalhos coordenados por esse Grupo de Pesquisa.
A conferir, conforme as notas 32 e 33, do Documento de Análise de Conjuntura. Nota 32 LIMA, Adriana Nogueira Vieira; IVO, Any Brito Leal; MOURAD, Laila Nazem; REIS, Lysie; VALVERDE, Thaianna de Souza. Formas Periféricas de Morar: Narrativas, Resistências e Insurgências. Link: https://doi.org/10.25247/2447-861X.2023.n259.p161-171; a nota 33 SANTOS, Elisabete, AFONSO, Roseli de Fátima [et al]. Atlas sobre o Direito de Morar em Salvador. Salvador: UFBA, Escola de Administração, CIAGS: Faculdade 2 de julho, 2012. Ver prefácio de José Geraldo de Sousa Junior e Capítulo VI – Acesso à Justiça e Segurança pelos Sem-Teto. Ver também Centro de Estudos e Ação Social – CEAS: O povo quer paz e justiça! Basta de violência! Link: https://ceas.com.br/o-povo-quer-paz-e-justica-basta-de-violencia/ Acesso em 06/02/2025.
Ainda sobre Adriana, o que ela pontua e que se referencia na nota 27, sobre salientar, no que concerne às investigações referentes à realidade socioeconômica das áreas urbanas “periféricas”, enquanto essas se caracterizarem por apresentar bases organizacionais próprias, uma vez que foram fundadas, em grande parte dos casos, à margem das atividades e parâmetros estatais. Mediante ao elencado, nota-se que não só o caráter singular desses territórios, mas também sua denominação e visibilidade. De Adriana ver Do Direito Autoconstruído ao Direito à Cidade: porosidades, conflitos e insurgências em Saramandaia. Salvador: EDUFBA, 2019. O livro, registre-se, deriva de tese de doutorado Prêmio CAPES de Tese em 2017 na área de Arquitetura, Urbanismo e Design.
A segunda observação singular é também dar-se conta não ser possível pensar em moradia sem considerar a destacada a participação da mulher e a luta pela moradia, considerando que o que as mobilizam não é apenas a necessidade da casa, na atuação diária, mas é o seu engajamento na política para se perceberem como sujeitos políticos, sujeitos de direito, pois, ao fazer política “elas mudam as relações de gênero, transformam a experiência individual e privada e se descobrem sujeitos da sua própria vida – e cada experiência particular passa a ser um exemplo, uma fonte de inspiração para outras mulheres” (SANTOS, Elisabete, AFONSO, Roseli de Fátima [et al]. Atlas sobre o Direito de Morar em Salvador. Salvador: UFBA, Escola de Administração, CIAGS: Faculdade 2 de julho, 2012. Ver prefácio de José Geraldo de Sousa Junior e Capítulo VI – Acesso à Justiça e Segurança pelos Sem-Teto. Ver também Centro de Estudos e Ação Social – CEAS: O povo quer paz e justiça! Basta de violência! Link: https://ceas.com.br/o-povo-quer-paz-e-justica-basta-de-violencia/ Acesso em 06/02/2025).
Esse ponto foi posto em relevo na Análise de Conjuntura da CNBB – Justiça e Moradia, na qual também se alude a artigo de Maiara Auck, Direito à Moradia para as Mulheres sob a Ótica da Autonomia: Atuação e Conquistas dos Movimentos Sociais, sustentando que a moradia para as mulheres significa fortalecimento da sua autonomia (AUCK, Maiara. O Direito Achado na Rua, vol. 9 – Introdução Crítica ao Direito Urbanístico. Brasília: Editora UnB, 2019. Link: https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/book/17).
Por tudo isso, ler a tese de Sabrina Durigon Marques vale por confirmar a consistência de construção teórica e poder partilhar de fundamentos tão bem postos pela Autora, pela força de sua capacidade teórica e de elaborar conceitos e de sua incidência política em questões tão interpelantes a partir de um social exigente e ativo.
 Foto Valter Campanato Foto Valter Campanato |
José Geraldo de Sousa Junior é Articulista do Estado de Direito, possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal (1973), mestrado em Direito pela Universidade de Brasília (1981) e doutorado em Direito (Direito, Estado e Constituição) pela Faculdade de Direito da UnB (2008). Ex- Reitor da Universidade de Brasília, período 2008-2012, é Membro de Associação Corporativa – Ordem dos Advogados do Brasil, Professor Titular, da Universidade de Brasília, Coordenador do Projeto O Direito Achado na Rua.55 |