Lido para Você, por José Geraldo de Sousa Junior, articulista do Jornal Estado de Direito
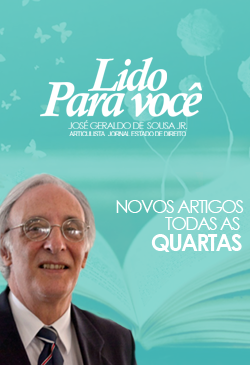
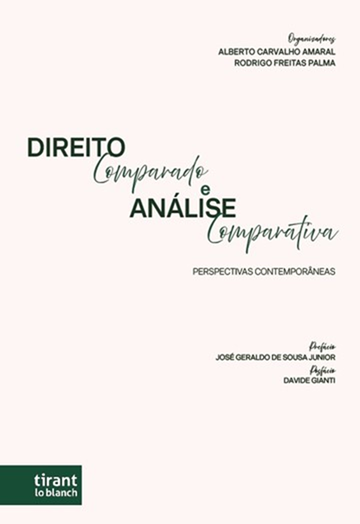
A convite de Alberto Carvalho Amaral, um dos organizadores do livro que a Tirant lo Branch acaba de publicar, fiz o prefácio da obra, a que dei o título Em busca de uma senda alargada de acesso e democratização da justiça.
O sub-título do prefácio que muito me mobilizou à leitura do sumário da obra, antecipo, é a síntese do que pude aferir de sua leitura cuidadosa, desta bela edição da Tirant Lo Blanch. O prefácio se presta bem para indicar do que cuida o livro e por isso o retomo integralmente para compor este Lido para Você.
Mas antes de prosseguir nessa replicação, para o objetivo da recensão, vou aos acréscimos da edição elaborados depois que preparei o prefácio. São o posfácio, a cargo de Davide Gianti e as notas editoriais.
No posfácio, distingue a obra no que nela se apresenta como um panorama crítico e propositivo sobre a importância do direito comparado, destacando a relevância de abordagens interdisciplinares para a formação jurídica contemporânea. Critica-se o apego ao formalismo e ao positivismo legislativo, que ainda dominam a tradição jurídica em muitos países, inclusive no Brasil. Em contraposição, propõe-se um modelo de investigação que reconheça as dinâmicas históricas, sociais, econômicas e culturais como elementos essenciais para a compreensão do direito.
A obra tem dois méritos centrais: oferece soluções jurídicas brasileiras inovadoras a problemas comuns em vários sistemas jurídicos, e propõe um diálogo internacional e comparativo que pode enriquecer tanto o Brasil quanto outros países. Um exemplo é o modelo brasileiro de acesso à justiça, especialmente a Defensoria Pública, concebida como instrumento institucional da democracia e da efetivação de direitos fundamentais.
Para o autor do posfácio, o texto defende a superação do isolacionismo acadêmico-jurídico e o reconhecimento do Brasil como um polo ativo na elaboração de soluções jurídicas originais. Para isso, segundo ele, é essencial que o direito comparado seja visto como uma disciplina fundamental, capaz de fornecer ferramentas críticas e metodológicas para compreender e transformar a realidade jurídica. Ele considera que o livro representa o início de uma nova fase nos estudos jurídicos comparados no Brasil, baseada não apenas na recepção de ideias estrangeiras, mas na projeção de suas próprias contribuições ao cenário global.
O comentário é uma nota de distinção, tendo-se em conta o que representa Davide Gianti, no ambiente de estudos e análises comapratistas. Pesquisador em Direito Comparado na Universidade de Estudos de Turim. Com títulos acadêmicos significativos, ele é membro do corpo editorial das revistas The Cardozo Electronic Law Bulletin e Cosmo. Comparative Studies in Modernism, além de integrar a Associação Italiana de Direito Comparado. É autor de diversas publicações em revistas jurídicas italianas e internacionais sobre direito comparado e outras temáticas interdisciplinares.
Volto ao prefácio para nomear os organizadores, autores e autoras do livro: Alberto Carvalho Amaral e Rodrigo Freitas Palma, autoras e autores | Alberto Carvalho Amaral | Carlos Eduardo Freitas de Souza | Cleber Francisco Alves | Diogo do Couto Esteves | Guilherme Gomes Vieira | Jorge Bheron Rocha | Luciana Lombas Belmonte Amaral | Luís Roberto Cavalieri Duarte | Mariella Pittari Merkel | Maurilio Casas Maia | Rodrigo Casimiro Reis | Rodrigo Freitas Palma |
São eles e elas, todos e todas, acadêmicos, professores e pesquisadores, com formação interdisciplinar orientada por estudos comparados nos quais se percebe em relevo o tema dos sistemas de justiça, as perspectivas de ampliação e acesso a esses sistemas, a garantia de direitos, notadamente pela mediação pública de sua defesa e concretização.
Basta ver pelos enunciados das contribuições que se organizam na obra: Assistência jurídica defensorial: uma mirada Argentina-Brasil; Breves notas comparativas sobre a assistência jurídica gratuita no Brasil e em Portugal; A restrição da prerrogativa de foro no Brasil como forma de promover a igualdade material; O itinerário jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da execução da sanção criminal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória; Liberdade de expressão e seus limites; A vocação brasileira em harmonizar o common law; História do direito japonês na era meiji (1868-1912; Definições de necessitado no âmbito das Defensorias Públicas no Brasil.
Os artigos e ensaios seguem uma estrutura organizativa que atende aos pressupostos metodológicos da modelagem comparativa transistêmicas de direito contemporâneo. Para quem acostumou-se nesse campo com o modelo de René David (Os Grandes Sistemas de Direito Contemporâneo, Editora Martins Fontes), sabe que a disposição cartesiana de classificação, não se estiola no formalismo dos tipos porque dá conta da circuição dos fundamentos histórico-filosóficos, dos seus elementos estruturantes (categorias e modo de designação da norma do direito) e seu movimento expansionista e receptivo espaço-temporal. Esses elementos se co-implicam interna (dentro dos sistemas) e externamente (quando há contato e interação globalizantes), numa troca desigual nas suas porosidades.
Na Apresentação os organizadores (Alberto Carvalho Amaral e Rodrigo Freitas Palma) guardam atenção a esses pressupostos dos estudos comparados:
Pensar em um direito comparado presume, como objeto investigativo da disciplina jurídica, o confronto entre semelhanças e dessemelhanças de diversos sistemas jurídicos vigentes no mundo, com o propósito de compreender e empreender melhorias para um Estado determinado. Permite abranger respostas de sistemas legais diversos na solução de problemas similares. Destaca, assim, a macrocomparação de sistemas jurídicos particulares de países diversos ou limita-se a análise de institutos jurídicos de ordens jurídicas distintas, bem como da própria ciência jurídica e suas interfaces sociais. Mas não somente esse recorte, internacional ou intersistêmico, já que a comparação pode (e deve) envolver outros aspectos que, por diversas vezes, não se limitam ou se esgotam nas fronteiras entre países. A análise comparativa, que não se limita aos pressupostos do direito comparado, ou a análise comparativa do direito, dentro daquela disciplina, permite análises internas de um determinado sistema jurídico, investigando-se como ocorre seu desenvolvimento histórico, institucional, organizacional, social, enfim, extrapolando a visão de fronteiras e apropriando-se de um arsenal analítico que desvela a experiência do direito dentro e fora de fronteiras, entre épocas, aparelhos estatais ou não estatais, teorias e respostas jurídicas.
A obra, que se apresenta tem como objetivo reunir diversas contribuições capazes de abordar os fenômenos jurídicos sob perspectivas múltiplas, com fontes variadas. Logo, empreende-se por análises comparativas entre países (Argentina, Brasil, Portugal, Japão), entre concepções teóricas e organizacionais internas, jurisprudências, legislações, práticas institucionais. Como disciplina que necessariamente transcende fronteiras, nacionais e teóricas, investiga os sistemas jurídicos, as instituições em sua organização e desempenho funcional, enfim, o fazer jurídico enquanto expressão das peculiaridades da organização humana
Com Alberto Carvalho Amaral, um dos organizadores/autor, e como minha colega professora na Universidade de Brasília Talita Tatiana Dias Rampin, eu já havia contribuído com o artigo “Exigências críticas para a assessoria jurídica popular: contribuições de O Direito Achado na Rua”, p. 803-826, para um livro – Defensoria Pública e a Tutela Estratégica dos Coletivamente Vulnerabilizados. (Orgs): Lucas Diz Simões, Flávia Marcelle Torres Ferreira de Morais, Diego Escobar Francisquini. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2019.
Dentro do escopo da Coletânea, é certo, dado que a ênfase da obra abordara temáticas a partir do eixo central da atuação coletiva, judicial e extrajudicial da Defensoria Pública e, no conjunto dos artigos, diversos temas serão postos em relevo – quilombolas, indígenas, imigrantes, trabalho escravo, infância e juventude, moradores em situação de rua, moradia, liberdade de pensamento e religiosa, atingidos por eventos ambientais, direitos do consumidor, atuação perante organismos internacionais, violência doméstica, trabalho ambulante, saúde, sistema prisional, direito à cidade, entre outros, muito de nossa abordagem pretendeu atender duas questões: qual o potencial do processo de coletivização judicial para a garantia do acesso à justiça? Quais riscos este processo pode apresentar?
Do modo como consideramos essas questões, o que dissemos foi já não se tratar de potencial, mas de constatação de seu valor para a ampliação de acessos à Justiça se se considerar as formas coletivas de abreviar esse acesso e de coletivizar as pretensões. Pensemos nas estratégias ampliadas de subjetivação ativa das ações de inconstitucionalidade, na formação de juízos de convencimento a partir da dinâmica de audiências públicas, de admissibilidade de terceiros não parte em causas (amicus curiae), nas gestões para construção de ajustes de conduta e outras modalidades de pactuação para constituir obrigações e responsabilidades mediadas pela estrutura administrativo-judicial e no recente construto da atuação como custos vulnerabilis , na proteção em nome institucional próprio do direito de grupos sociais vulneráveis . O risco é o da judicialização da política e do ativismo decisionista, não confundidos com a competência alargada de aplicação construtiva de soluções judiciais, situações que têm revelado uma indevida substituição de razões do mediador (juízes, cortes judiciais, órgãos do sistema de justiça e do ministério público) em lugar das disposições legítimas de entendimentos razoáveis construídos pela participação ativa de coletividades e sujeitos coletivos (mecanismos de consulta prévia e informada, expertises sociais etc).
No mesmo diapasão, também se pode questionar: qual o potencial da Defensoria como instituição voltada para a garantia do acesso à justiça? Quais são os principais desafios a serem enfrentados para a concretização deste potencial?
Não é por acaso que, nas mobilizações para a institucionalização de defensorias, o social organizado tenha sido um fator determinante para a sua criação. Pensemos, por exemplo, o caso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para cuja institucionalização muito contribuiu a mobilização da sociedade civil. Por isso mesmo, em sua estrutura, é muito pertinente a atividade de sua Ouvidoria Externa, eleita a partir de candidatos externos à defensoria, que traduz de alguma maneira o sentido de participação que nesse sistema o princípio democrático alcançou. Veja-se a esse respeito, a belíssima tese de doutoramento de Élida Lauris dos Santos, defendida em Coimbra: “Acesso para quem precisa, justiça para quem luta, direito para quem conhece: dinâmicas de colonialidade e narra(alterna)tivas do acesso à justiça no Brasil e em Portugal. Coimbra: [s.n.], 2013”, um belo estudo de referência para abordagens comparadas.
Reporto-me aqui ao que já manifestei em Carta de apresentação de pesquisa, por mim assinada na qualidade de coordenador da pesquisa “Observatório do Judiciário”, volume nº 15/2009, da Série Pensando o Direito, numa atenção a um termo e referência objeto de chamada editalícia para pensar projetos de observação dos sistemas de justiça (Secretaria de Assuntos Legislativos e Secretaria de Reforma do Judiciário hoje, de Acesso à Justiça). A resposta que pudemos oferecer à convocação do Mistério da Justiça, nesse projeto, que também serve para descrever a minha própria experiência, pode se expressar de duas formas: Em primeiro lugar, identificar dimensões de análise e acompanhamento da Justiça com base na experiência de Observação da Justiça desenvolvida no âmbito do projeto. Em segundo lugar, o ter podido indicar arranjos para institucionalização dessas experiências e de suas lições aprendidas, com a expectativa de vê-las transformadas em atividade permanente, graças à concertação de aproximações interinstitucionais (UnB/Faculdade de Direito e UFRJ/Faculdade de Direito) e agendas para o diálogo interpessoal, no sentido de colocar em um mesmo projeto, pesquisadores com trajetórias e aquisições muito distintas mas que lograram estabelecer um programa comum e uma carta de princípios para levar a cabo os consensos razoáveis que souberam manter num bem elaborado consenso (Observatório do Judiciário, Série Pensando o Direito, UnB/UFRJ, PNUD/Secretaria de Assuntos Legislativos/Ministério da Justiça, Brasília, nº 15/2009. Coordenação Acadêmica José Geraldo de Sousa Junior, Fábio de Sá e Silva, Cristiano Paixão e Adriana Andrade Miranda (http://pensando.mj.gov.br/wpcontent/uploads/2015/07/15Pensando_Direito3.pdf)).
Em continuidade, e com apoio nos achados de pesquisas com a mesma disposição (REBOUÇAS, Gabriela Maia; SOUSA JUNIOR, José Geraldo de; CARVALHO NETO, Ernani Rodrigues de (Organizadores). Experiências Compartilhadas de Acesso à Justiça: Reflexões teóricas e práticas. Santa Cruz do Sul: Essere nel Mondo, 2016, 281 p. Texto Eletrônico. Modelo de Acesso World Wide Web (gratuito). www.esserenelmondo.com.br; e REBOUÇAS, Babriela Maia; SOUSA JUNIOR, José Geraldo de; ESTEVES, Juliana Teixeira (Organizadores). Políticas Públicas de Acesso à Justiça: Transições e Desafios. Santa Cruz do Sul: Essere nel Mondo, 2017, 177 p. E-Book (gratuito). www.esserenelmondo.com.br, tem sido possível orientar uma reflexão que aponta para o que aqui volto a denominar Concepção Alargada de Acesso à Justiça, e da Justiça a que se quer acesso e qual Judiciário na Democracia?
No caso do Brasil, mas se vê também em experiências comparadas, trata-se de buscar realizar promessas democráticas e constitucionais como condição para responder a desafios de recriação das forma e do agir democrático, incluindo os sistemas de justiça. Mas o desafio maior que se põe para concretizar a promessa do acesso democrático à justiça e da efetivação de direitos é pensar as estratégias de alargamento das vias para esse acesso e isso implica encontrar no direito a mediação realizadora das experiências de ampliação da juridicidade. Vale dizer, poder dispor de instrumentos de interpretação dos modos expansivos de iniciativas, de movimentos, de organizações que, resistentes aos processos de exclusão social, lhes contrapõem alternativas emancipatórias.
Disso tratamos, com o lançamento da REVISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, v. 1 n. 2 (2019): Ordenamentos jurídicos, monismos e pluralismos: O Direito Achado na Rua e as possibilidades de práticas jurídicas emancipadoras. Editor-Chefe Defensor Público do Distrito Federal Alberto Carvalho Amaral. Brasília, maio a setembro de 2019.
O dossiê reúne manifestações – artigos, ensaios, resenhas – sobre as possibilidades emancipatórias que podem advir da atuação articulada entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e os viéses emancipatórios de O Direito Achado na Rua, evidenciando como o enfrentamento às situações sociais de vulnerabilidade social é das principais pautas (ou deveria ser) de uma política pública mínima de garantia dos direitos da cidadania. Se os caminhos são mais distantes para o pobre, é nosso dever, como juristas, críticos, sensíveis ao mundo que nos rodeia, e da Defensoria Pública, enquanto órgão que se atreveu a concretizar os ditames constitucionais em uma sociedade desigual, tentar alcançar e, pelo menos, transformar a sociedade.
Claro que sempre com a atenção para as armadilhas, não poucas, que o sistema-mundo em contextos utilitaristas de organização social e política faz incidir. Armadilhas que Talita Rampin, ao trazê-las como sinalização para estabelecer os fundamentos de seu trabalho de doutoramento, caracteriza como uma “outra agenda objeto de diversas influências internacionais”, muitas conferidas nos protocolos de financiamento dos Sistemas de Justiça pelo Banco Mundial, não apenas para os interesses de “estabilização dos negócios no período neodesenvolvimentista” mas para exercitar pressões sobre os tribunais brasileiros, seu objeto de estudo (cf. RAMPIN, Talita Tatiana Dias. Estudo sobre a reforma da justiça no Brasil e suas contribuições para uma análise geopolítica da justiça na América Latina. Tese de Doutorado em Direito, Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2018).
Por isso aqui, a pretexto de elaborar o prefácio, voltei a empregar a expressão a “Uma concepção alargada de acesso e democratização da justiça”, que já aplicara em outros momentos e muito especialmente também para prefaciar o livro editado pela Terra de Direitos e pela Articulação Justiça e Direitos Humanos, com a organização de Antônio Escrivão Filho, Darci Frigo. Érica de Lula Medeiros, Fernando Gallardo Vieira Prioste, Luciana Furquim Pivato, “Justiça e Direitos Humanos: Perspectivas para a Democratização da Justiça, vol. 2, Curitiba: Terra de Direitos, 2015, procurando corresponder às expectativas postas na publicação sobre “o aumento do interesse das organizações do campo popular pelo papel social do Poder Judiciário (que) aponta para necessidade de construir ações coletivas e estruturantes, que estejam além da litigância reativa e incidam sobre a agenda política de justiça, com uma perspectiva estratégica que vá muito além da busca de soluções para situações concretas e pontuais”.
Certo que em apontar para novas perspectivas contemporâneas para análises comparativas, o material reunido no livro contribui para adensar caminhos metodológicos que sustentam esse campo. Algo que aprendemos a partir do método de René David – a grande referência em nosso tempo de formação – para caracterizar as grandes famílias de direito contemporâneo.
Em René David, à luz de seus quatro critérios principais, formação histórica, que permite examinar as origens e os fatores culturais, religiosos, filosóficos e políticos que moldaram os sistemas jurídicos ao longo do tempo; o modo de determinar a regra de direito, que sustenta a análise de como se produzem e se legitimam as normas jurídicas, se por codificação estatal (direito civil), jurisprudência (common law), textos religiosos (direito muçulmano), ou outros mecanismos; o sistema de classificação, não só para agrupar os sistemas (famílias), com base nas semelhanças estruturais e funcionais mas pela designação de conceitos e categorias próprias de cada um; e a expansão e recepção dos sistemas, modo pelo qual se avalia a sua difusão ou imposição (colonialismo, globalização) e como são recebidos ou adaptados por outros países.
René David, aliás, teceu um comentário de incentivo ao projeto de criação, em 1970, da Revista Notícia do Direito Brasileiro, primeiro veículo de divulgação do então Departamento de Direito, da antiga Faculdade de Estudos Sociais Aplicados – FA, da UnB. Certamente a menção deve ter se devido a um registro de apoio a sua ex-orientanda no doctorat d’État, o mais alto nível de diplomação universitária na França. O comentário foi publicado na Revue Internationale de Droit Comparé, 1971, II pág. 515; “Tel qu’il est l’ouvrage est pourtant sans equivalente; il mérite pour cette raison d’être connu”, e vale como uma certificação: “Tal como é, a obra não tem equivalente; por essa razão, merece ser conhecida”.
Com efeito, a professora Ana Maria Vilella, uma distinguida acadêmica, foi diretora da FA e uma das criadoras da Notícia. Chamo a atenção para seu importante artigo “Direito romano e sistema jurídico latino‑americano”, Revista de Informação Legislativa, v. 18, n. 70 (abr./jun. 1981), Revista que ela também dirigiu por um tempo.
Apesar de o título focalizar o direito romano e os sistemas latino‑americanos, o artigo discute como as tradições legais (incluindo a romano‑germânica) interagem na América Latina, delineando semelhanças e convergências com o common law. A partir dessa análise, ela contribui para compreender o processo de aproximação de conteúdo entre essas famílias jurídicas. Enquanto explora a origem histórica do direito romano-germânico e sua recepção na América Latina, ela se dá conta de que os mecanismos de integração normativa, como a valorização da jurisprudência e das práticas case law em sistemas tipicamente civilistas, e reciprocamente, o modelo dedutivo da abstração legislativa do modelo romano-germânico, intercambiam influências nos sistemas latino‑americanos, incluindo o Brasil, como exemplo de hibridação jurídica.
O livro – Direito Comparado: Perspectivas Contemporâneas – e os ensaios que nele são apresentados trazem uma nota de identidade que se estabelece para aferir a coerência e o potencial utópico dessa busca de uma senda alargada de acesso e democratização da justiça. É a sua virtualidade, inclusive semântica (CORREIA, Ludmila Cerqueira, ESCRIVÃO FILHO, Antonio; SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Exigências Críticas para a Assessoria Jurídica Popular: Contribuições de O Direito Achado na Rua. Coimbra: CesContexto, Debates n. 19, outubro de 2017), uma espécie de plataforma para instalar um direito emancipatório (SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Concepção e Prática do O Direito Achado na Rua: Plataforma para um Direito Emancipatório. Brasília: Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário, 6(1), abril/junho, 2017), para o exercício protagonista, crítico e criativo, operando novos e combinados mecanismos políticos e técnicas jurídicas, para o alargamento democrático do sistema de justiça.
 Foto Valter Campanato Foto Valter Campanato |
José Geraldo de Sousa Junior é Articulista do Estado de Direito, possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal (1973), mestrado em Direito pela Universidade de Brasília (1981) e doutorado em Direito (Direito, Estado e Constituição) pela Faculdade de Direito da UnB (2008). Ex- Reitor da Universidade de Brasília, período 2008-2012, é Membro de Associação Corporativa – Ordem dos Advogados do Brasil, Professor Titular, da Universidade de Brasília, Coordenador do Projeto O Direito Achado na Rua.55 |








